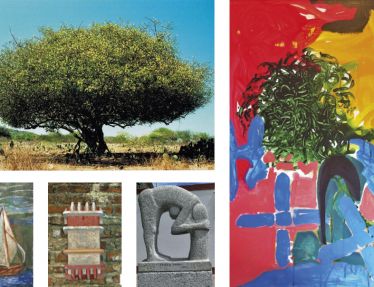Amor lésbico em debate no cinema
Romance entre mulheres ganha espaço em séries, novelas e filmes, como o drama 'Carol', dirigido por Todd Haynes, mas a abordagem ao tema ainda é controversa
TEXTO Rodrigo Carreiro
01 de Fevereiro de 2016

Rooney Mara e Cate Blanchett em filme baseado no livro de Patricia Highsmith
Foto Divulgação
Estados Unidos, anos 1950. Sentadas em uma mesa de jantar, duas mulheres conversam em um restaurante chique. Um homem se aproxima e fala com a mais jovem. A mais velha se levanta e se despede, tocando de leve o ombro direito da morena. Esta permanece olhando para a parte do corpo que acabou de ser tocada. O homem sai em seguida e repete o mesmo toque, agora no ombro esquerdo, mas a mulher não lhe dá atenção. A mensagem é clara: o primeiro toque foi dado por alguém que mexe com um afeto especial; o segundo, por uma pessoa sem importância. Essa descrição da sequência de abertura de Carol (Todd Haynes, 2015), produção norte-americana que estreou em janeiro, sintetiza duas faces – uma bela, a outra terrível – da representação do amor entre mulheres no cinema. Ao mesmo tempo em que celebra o afeto poderoso e singular que pode conter o mais mínimo dos gestos, a discrição exagerada do modo como este afeto é comunicado entre as duas mulheres revela o quão controverso e polêmico tem sido o tema das relações homossexuais na sociedade ocidental, seja nas telas ou fora delas.
O filme de Todd Haynes, premiado em Cannes com o troféu de melhor interpretação feminina para a atriz Rooney Mara, em 2015, documenta um escândalo social provocado pela revelação de um romance entre as duas mulheres. Carol examina, com postura crítica, um preconceito secular enraizado nos países americanos e europeus, e que procura vender a homossexualidade como uma prática devassa, profana, e, em última instância, errada. No cinema, a posição política de defesa de qualquer tipo de amor, assumida pelo filme, tem sido historicamente rara. Vito Russo, pesquisador pioneiro no tema da representação homossexual em Hollywood, é bastante taxativo no livro The celluloid closet, um estudo monumental dos modos como personagens gays têm sido construídos na indústria cinematográfica: embora homossexuais venham sendo representados em filmes desde o início do cinema, eles preenchem apenas três arquétipos básicos: (1) o gay afetado incluído no roteiro com propósitos cômicos, (2) o heterossexual que se envolve por carência com uma pessoa do mesmo sexo, e em geral se arrepende da aventura antes do final do filme, e (3) o gay convicto que quase sempre tem um destino trágico – morre, é preso ou, no mínimo, termina sem o final feliz reservado a mocinhos heterossexuais. E esse panorama é ainda mais socialmente repressor para com os filmes que tratam do amor entre mulheres.
Em 1931, tema ascende ao primeiro plano narrativo. Foto: Divulgação
De fato, não são poucas as obras que incluem personagens homossexuais. Pelo menos duas pesquisas extensas e abrangentes catalogaram esses filmes no âmbito da produção nos países desenvolvidos. O já citado The celluloid closet, publicado em 1981 e revisado em 1987, contém o mais amplo estudo realizado na área. O livro rendeu também uma versão cinematográfica – um documentário com o mesmo nome, dirigido por Rob Epstein e Jeffrey Friedman, e lançado em 1995. O outro estudo foi levado a cabo pelo crítico inglês Richard Dyer, e ganhou versão impressa em 1990 (com revisão feita em 2003). As duas pesquisas concordam com alguns dados históricos: o número de filmes que tematizam questões relacionadas a gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros aumentou exponencialmente a partir dos anos 1980, trazendo a reboque personagens com composições mais complexas e nuançadas, e portanto fugindo dos estereótipos mencionados anteriormente. Embora combatido por cineastas de renome, incluindo David Lynch e Ang Lee, o problema do preconceito continua determinando, em parte, uma forte rejeição desses filmes pelo público mais conservador. A essas conclusões, podemos acrescentar que os longas sobre amor lésbico são, muitas vezes, vistos ou com mais curiosidade ou com um grau ainda maior de rejeição, especialmente por parte do público masculino.
Essa rejeição explica, em parte, porque personagens secundários gays sempre foram, historicamente, mais presentes nos filmes do que as lésbicas. Homens vestidos de mulheres – uma tradição curiosa que se solidificou nas novelas da faixa das 19h da TV Globo, nos últimos 20 anos, e depois fez uma ponte transmídia para o teatro e o cinema – apareciam sem causar grande surpresa em comédias das primeiras décadas do cinema. Filmes de Charlie Chaplin e da dupla Stan Laurel e Oliver Hardy (no Brasil, O gordo e o magro), populares em meados dos anos 1910, registram esse tipo de personagem, mas apenas com propósitos de alívio cômico, sem que participassem efetivamente da trama e, claro, sem explorar a sexualidade. Os exemplos femininos surgiram bem mais tarde e, em geral, longe dos Estados Unidos. Um dos casos mais antigos e também mais conhecidos aparece no clássico alemão A caixa de Pandora (Die Büchse der Pandora, G.W. Pabst, 1929), no qual uma aristocrática condessa (Alice Roberts) se apaixona pela bela protagonista Lulu (Louise Brooks).
No mais remoto exemplar do uso da temática, A caixa de Pandora. Foto: Divulgação
Aliás, a Alemanha não era apenas o país mais fértil (ao lado dos EUA) na área do cinema, nas décadas de 1920-30; sua capital, Berlim, viu nascer e crescer uma subcultura homoafetiva rica e extravagante, com revistas, cafés, bares e um teatro frequentados exclusivamente por gays. Nesse contexto, era natural que alguns filmes da época incluíssem personagens homossexuais, que eram, em geral, coadjuvantes sem importância para o enredo. Uma exceção a essa regra aparece emSenhoras em uniforme (Mädchen in uniform, de Carl Froelich e Leontine Sagan, 1931), tido pelos historiadores como o primeiro filme em que a temática lésbica ascendeu ao primeiro plano narrativo. O longa-metragem narra a paixão da aluna de uma escola exclusiva para moças (Hertha Thiele) por uma das professoras (Dorothea Wieck).
Embora o período favorável aos gays na Alemanha não tenha durado muito – a ascensão de Hitler ao poder brecou violentamente a liberdade sexual no país, em 1933 –, ele favoreceu o surgimento, em Hollywood, de uma quantidade significativa de estrelas de cinema lésbicas ou bissexuais, graças ao êxodo em massa de atores e técnicos da indústria alemã à América do Norte. Provavelmente, a mais conhecida dessas divas foi Marlene Dietrich, a berlinense que se tornou um dos maiores símbolos sexuais da virada dos anos 1930 e 1940. Abertamente bissexual, ela foi uma das atrizes responsáveis pelo crescimento de uma cultura de revistas de fofoca, na qual repórteres e até detetives investigavam a vida íntima dos astros. Cultivando um visual andrógino e nunca desmentindo rumores picantes, como o de que teria um caso amoroso com Greta Garbo, Dietrich deu beijo lésbico em Marrocos (Morrocco, Josef Von Sternberg, 1931) e se tornou um grande ícone gay.
Em Marrocos (1930) Marlene Dietrich dá o primeiro beijo entre mulheres nas telas.
Foto: Divulgação
A partir de 1934, a indústria cinematográfica norte-americana sofreu um duro golpe com a consolidação do Código Hays, um conjunto de normas de conduta morais que diretores, roteiristas e produtores deveriam seguir, sob o risco de não terem os filmes “aprovados” por um comitê de controle comandado por religiosos. Nas três décadas seguintes, personagens gays, bem como romances homossexuais, foram confinados ao pano de fundo. Somente a partir dos anos 1960, os cineastas dos EUA ousaram desafiar – primeiro tímida, depois abertamente – a censura. Em 1961, o veterano diretor William Wyler ajudou a dar um passo importante filmando Infâmia (The children’s hour), drama de época no qual a aluna de um internato acusa duas professoras de terem um caso amoroso. Wyler está mais interessado na discussão pública sobre liberdade de conduta que se segue ao escândalo do que no romance em si (que, por sinal, nunca é confirmado), mas a porta já estava aberta para que o tema voltasse a ser discutido, de forma cada vez mais desafiadora.
Na virada entre os anos 1960 e 1970, a temática do amor entre mulheres ainda era um tabu na indústria mais séria, mas gerou o surgimento de um subgênero do cinema comercial que ficou conhecido pela sigla WIP (do inglês Women in Prison, ou Mulheres na Prisão). Feitos em lugares díspares como Itália, Espanha, Hong Kong e Filipinas (além dos Estados Unidos, claro), esses filmes são invariavelmente ambientados em presídios ou penitenciárias, e quase sempre capricham em cenas abundantes de sexo lésbico. Sem serem exibidos no circuito comercial, títulos como Ilsa, a guardiã perversa da SS (Ilsa, she-wolf of the SS, Don Edmonds, 1975) ficaram conhecidos por conter uma carga alta de misoginia e machismo, temperada com muita nudez feminina. No Brasil, a Boca do Lixo paulista também produziu exemplares do gênero, como Bare behind bars (Osvaldo de Oliveira, 1980). Nessas produções, porém, não havia interesse real por amor, romance ou afeto. Os enredos são frágeis e sem consistência. Apenas nudez e sexo eram importantes.
Com Audrey MacLaine, Infâmia (1961) desafiou censura em Hollywood. Foto: Divulgação
A década de 1980 registrou uma mudança radical na produção de filmes com temática lésbica. De certo modo, era a sociedade como um todo que estava mudando, e a subcultura gay não apenas se expandiu, como se tornou lucrativa. No cinema, o resultado disso é que os romances homossexuais começaram a saltar para o primeiro plano narrativo, em filmes tocantes, que investigam o desejo pelo mesmo sexo sem esquematismos ou preconceitos. Lianna (John Sayles, 1983), filmado em 16 mm, conta a história de uma estudante de 32 anos (Linda Griffits), mãe de dois filhos, que se apaixona por uma professora (Jane Hallaren) e decide enfrentar o preconceito para viver a paixão proibida – só não contava com o medo de seu próprio objeto de paixão. Na Nova Zelândia, anos antes de se tornar um cineasta multimilionário ao dirigir a trilogia O senhor dos anéis, Peter Jackson narrou com delicadeza a amizade obsessiva entre duas adolescentes (Kate Winslet e Melanie Lynskey), que termina de forma trágica. Ainda fora dos EUA, Aimee & Jaguar(1999) dramatiza com sensibilidade o período da guerra na Alemanha ao narrar a paixão devastadora entre a esposa de um oficial alemão (Maria Schrader) e uma jornalista judia (Julliane Köhler).
A partir daí, o tema se tornou corriqueiro. Foi explorado por diretores respeitados, como David Lynch em Cidade dos sonhos (Mulholland Drive, 2001), e Stephen Daldry em As horas (The hours, 2002), este último trazendo a estrela Nicole Kidman como uma torturada Virginia Woolf, vencedora do Oscar. A estatueta dourada também foi entregue a Hilary Swank (por Meninos não choram, de 1999) e Charlize Theron (por Monster – Desejo assassino, de 2003), que interpretaram personagens homossexuais, assim como ocorreu com o brasileiro Flores raras (Bruno Barreto, 2013), que dramatizou o romance entre a poetisa Elisabeth Bishop e a carioca Lota de Macedo Soares.
Diretoras lésbicas também discutiram o tema em filmes esclarecedores, como “The Berlin Affair” (Liliana Cavani, 1985), que trata do romance entre a mulher de um diplomata e uma artista japonesa na Alemanha de 1938, e “Minhas mães e meu pai” (The kids are all right, Lisa Cholodenko, 2010), sobre a vida de duas meninas que possuem duas mães (Julianne Moore e Annette Bening) e nenhum pai.
A maior aparição de personagens e tramas lésbicas, contudo, não afastou a polêmica, que continuou a dar as caras. Isso ocorreu com o filme francês Azul é a cor mais quente (Abdellatif Kechiche), graças às cenas de sexo entre duas jovens parisienses (Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos), filmadas em longos close-ups que desnudam cada centímetro dos corpos das garotas, e, em menor intensidade, com o thriller americano Ligadas pelo desejo (Bound, Andy e Lana Wachowski, 1996), que introduz um romance lésbico picante numa trama noir clássica – empregada (Gina Gershon) de um mafioso planeja roubar o chefe e fugir com a mulher dele (Jennifer Tilly).
Em tempos de multimídia, o amor entre mulheres tampouco ficou restrito ao cinema. No século 21, também os seriados de TV – tidos por muitos como o espaço mais privilegiado da atualidade para a dramaturgia – abraçaram o tema com vigor. Nos Estados Unidos, séries como The L word (A palavra com L, referência velada ao lesbianismo) e Orange is the new black abordam diretamente a cultura lésbica. O primeiro seriado, exibido entre 2004 e 2009, está centrado na vida de um grupo de amigas lésbicas e bissexuais em Los Angeles. A segunda série, disponível desde 2013 no Netflix, é ambientada numa prisão feminina e possui uma protagonista homossexual (Taylor Schilling). Como se vê, o amor entre mulheres já superou a época em que era assunto proibido. Mas o tabu ainda existe, e filmes como Carol são fundamentais para não nos deixar esquecer que a estrada para a aceitação sem reservas ainda é longa. ![]()
RODRIGO CARREIRO, jornalista, professor e coordenador do curso de Cinema da UFPE.
Publicidade