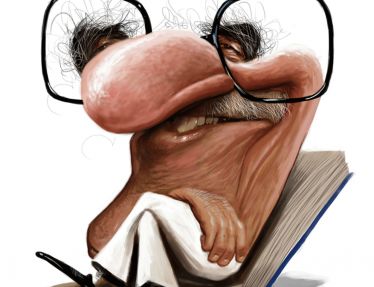
Moçambique: relato de uma mzungu
Educadora brasileira conta, em primeira pessoa, a experiência de ser voluntária na cidade de Beira, em Sofala, região central do país, onde as carências de toda ordem levaram-na a ser útil em qu
TEXTO Michelle Gueiros
01 de Março de 2017

Maioria das mulheres do país não sabe como engravida
Foto Michelle Gueiros
[conteúdo na íntegra | ed. 195 | março 2017]
Tenho poucas memórias da minha infância, mas não sei como, desde que comecei a me entender por gente, sabia que havia um mundo além do conforto da minha casa. Tenho 25 anos e decretei liberdade há quase 11 anos. Minha vida era confortável e boa e eu tinha tudo o que uma quase adolescente precisava, mas o mundo me esperava de braços abertos e corri para abraçá-lo. Nele, descobri um abraço que nem sempre foi acolhedor, mas que moldou a pessoa que me tornei ao longo desses anos. Desde 2006, não parei mais. Fiz casas no coração das pessoas e aceitei ser visita. Até consegui parar em alguns lugares, mas nunca tinha conseguido ficar mais de dois anos no mesmo lugar. Não tive problemas em transferir a faculdade, não me incomodava ir para um lugar desconhecido. Sem apego, eu fazia as malas e partia. Recomeçava e continuava me recusando a pintar paredes das minhas cores favoritas e a comprar um guarda-roupa. Malas se tornaram minhas melhores amigas e companheiras. Minha mãe, sempre desesperada, nunca parou de pedir e insistir para eu voltar para casa. Meu pai, o grande incentivador dos meus voos, nunca me pediu para voltar, mas eu conseguia ouvir um: “Vai, voa, cresce, e, se precisar voltar para casa, nós estamos aqui!” nos nossos abraços de despedida. Nunca esqueço uma ligação que, enquanto a minha mãe falava que estava na hora de eu fazer laços e criar raízes, a voz abafada do meu pai do outro lado dizia: “Compra umas fitas para fazer uns laços e umas mudas de árvores que resolve!”. Desliguei o telefone e chorei de saudade.
A decisão de passar um tempo em Moçambique não foi difícil. Já tinha me apaixonado pelo continente africano há quatro anos, quando, depois de concluir a faculdade, resolvi que estava pronta para uma nova aventura e fiz uma viagem para a realização de um trabalho voluntário junto a AIM (African Inland Mission). Voltei para o Brasil com a certeza de que voltaria a essa terra. São Paulo era o meu próximo destino e uma pós-graduação parecia uma boa desculpa para estar em um novo lugar. Concluí a pós em Direção de Arte e descobri que eu amo a arte, e todas as coisas bonitas que eu encontro nela, mas, mais que isso, descobri que amo pessoas, e todos os meus passos me levaram a ser professora, a profissão que me escolheu e que acolheu.
MZUNGU
Lembro que, quando pisei em terras africanas pela primeira vez, uma das primeiras palavras que ouvi foi mzungu. Essa é uma das palavras mais fáceis de se ouvir por aqui. Seja pelas crianças, enquanto correm e acenam para você gritando essa palavra repetidamente, seja pelos mais velhos, que você ouve cochicharem sobre quem acabou de chegar. Mzungu quer dizer homem branco ou mulher branca. Mas, na verdade, ser mzungu parece ter um significado muito além desse. Ser mzungu é ser sempre forasteiro. É quase como o espaço delimitado para aqueles que não pertencem àquele lugar, e que nunca vão pertencer, mesmo depois de muito tempo vivendo ali. Mas o sentimento de pertencimento que venho carregando aqui é tão inexplicável, que todas as vezes em que escuto murmúrios seguidos dessa palavra, eu prefiro imaginar que ela significa “amiga”, e sigo sorrindo.
A vida do lado de cá é uma enorme urgência feita de fatos e de pessoas que me transformam diariamente. Constantemente, tenho a necessidade de ouvi-las e compreendê-las, não apenas de registrar o que eu vejo. Todos as vivências e histórias que venho juntando na minha bagagem são parte não somente de uma compreensão física e cultural desse lugar, mas de não olhar apenas para mim. Hoje, vivo na cidade da Beira, capital da província de Sofala, na região central do país, onde a tragédia humana clama pela minha atenção diariamente, e todos os sentimentos pesam sobre o meu coração com mais intensidade. É um exercício constante tentar compreender coisas incompreensíveis e deixar a mente vagar junto com as experiências diárias. Deixo o mapa do imaginário me levar para mais longe das terras que julgo conhecidas e para mais perto de mim mesma.
RETRATO
Moro em uma rua coberta de poeira no terceiro andar de um prédio desgastado pelo tempo. Não há energia, muito menos portão, porteiro ou número. É só chegar e seguir até uma escada que leva até a minha porta. Morar sozinha tem suas vantagens, mas aqui na Beira não existe vantagem nenhuma nisso. Preciso estar todos os dias em casa antes do pôr do sol. Isso quer dizer que o meu dia termina em torno das seis e meia. Então, eu tomo um banho, entro no meu mosquiteiro e espero por mais um dia.
Não há uma rotina fixa quando se é voluntário. Você sempre será útil de alguma forma, em qualquer lugar que seja. Entre sala de aula, reforço escolar, brincadeiras com os pequenos vizinhos que ficam de lá para cá na rua, aulas de culinária de pratos típicos com os locais, rodas de conversa com mães e crianças soropositivas, rituais de introdução de recém-nascidos à comunidade, divido as minhas semanas e acordo todos os dias pronta para o que esse lugar tem para mim. Estar envolvida com uma vida completamente diferente da qual eu vivia me dá a possibilidade de me recriar todos os dias.
Moçambique está passando por uma crise desgastante há anos e as tensões políticas só aumentam. Não existe acordo ou negociação que ajude o país a sair do buraco tão cedo. A moeda está sendo desvalorizada quase que diariamente. Não cai um pingo de água de chuva há meses e as machambas, terrenos de cultivo para a produção familiar, estão secas. Não há colheita e, para muitos, há fome. Todos os dias crianças batem na porta da minha casa pedindo comida ou um pouco de atenção. Algumas ficam para o almoço, outras entram para brincar e outras só ficam olhando sem saber o que dizer. Pessoas estão sendo sequestradas e mortas por se filiarem a algum dos dois partidos políticos existentes. Não há nenhuma possibilidade de manifestação, muito menos liberdade de expressão. Aliás, não há liberdade. A liberdade que tanto achei que tinha escorre pelos dedos das minhas mãos diariamente.
Nesses tempos em frente de uma sala de aula moçambicana, descobri que escola é uma das maiores despesas das famílias africanas. O custo excede demais com os gastos de toda a família, e a escola não chega a ser nem uma opção para muitos. Das que se matriculam, muitas não terminam nem o primeiro ciclo ou saem da escola sem habilidades de leitura ou de escrita. Muitas ficam perambulando pelas ruas, buscando algum tipo de passatempo ou pedindo dinheiro nas áreas mais movimentadas da cidade. Adolescentes e jovens ficam encostados em muretas, esperando o tempo passar. Reflexo da colonização, ainda hoje é possível ver o mercado litorâneo onde tudo é vendido na beira do Oceano Índico. Peixes, pequenos camarões, vegetais, carnes e até aves vivas. Já a “Calamidade”, como é conhecido, é um mercado a céu aberto em que se vendem roupas, sapatos e acessórios usados, que chegam diariamente no Porto da Beira em fardos provenientes do mundo inteiro como doação. Entre camisas e calças estendidas no chão empoeirado, sapatos e roupas íntimas penduradas em cordas formando uma grande cortina, e gritos de descontos para todos os lados, a Calamidade é um bom lugar para se explorar e buscar alguns “achados”.
Mesmo sendo um país de língua portuguesa, somente 6% falam a língua oficial. Os demais falam os idiomas de suas respectivas tribos. São aproximadamente 30 dialetos no total e a comunicação é um desafio diário, que muitas vezes se transforma em grande frustração.
Embora algumas aldeias fiquem a poucas horas da cidade, a falta de acesso à informação é quase absoluta. As mulheres sequer sabem como engravidam, pois nunca ninguém lhes falou a respeito. Para elas, seus filhos estão dentro delas e, ao dormir com o marido, eles crescem dentro de seu ventre, como num prelúdio de toda a tragédia que está por vir. A gravidez é silenciosa. Ninguém pergunta, ninguém comenta ou monta qualquer enxoval. Os filhos são criados enrolados em uma única capulana, um pano que tradicionalmente é usado pelas mulheres, para vestir o corpo e também para “colar” o filho à mãe.
Com aproximadamente três meses de idade, bebês são atados nas costas de suas mães para a machamba. Lá ficam por horas, enquanto suas mães cultivam a terra seca debaixo de sol escaldante. As necessidades fisiológicas são feitas ali mesmo. As mães, completamente alheias às fezes, urina, suor e lágrimas que escorrem pelo seu corpo e do filho, continuam seu trabalho até quando for necessário. Tomam água contaminada, comem farinha com água e, com cinco meses de vida, os bebês já estão com sérios problemas de subnutrição. Muitos morrem de HIV, sem os pais sequer saberem o motivo da sua morte. Órfãs ou não, crianças lavam suas próprias roupas no rio, sem sabão e as vestem novamente molhadas. Muitos possuem apenas uma muda de roupa e, quando tanto, um par de sapatos.
Para conseguirem água, as mulheres e meninas andam quilômetros até o rio mais próximo e por isso costumam equilibrar baldes na cabeça, ou até mesmo bacias de alimentos que foram colhidos na vegetação local. A única alimentação diária é realizada pelas mulheres da aldeia em uma fogueira de pedras e gravetos. O preparo do alimento é feito em panelas rústicas. Farinha de milho e couve cozido são os únicos ingredientes utilizados na alimentação das aldeias. A hierarquia desse costume alimentar inicia-se com os homens mais velhos, que se servem do que desejam, depois as crianças e o que sobra é dividido entre as mulheres que prepararam.
MULHERES
Nas aldeias ou na cidade, mulheres são tratadas como objetos, perdendo toda e qualquer garantia de suas necessidades como seres humanos. Abandonadas às próprias forças, são submetidas à vontade do outro, muitas vezes negociadas por suas famílias por menos do que corresponderia a R$ 200 para pagamento de dívidas ou, no caso das meninas, como dote ou lobolo, como é chamado em Moçambique, ou ainda em troca de gado.
As jovens têm os seus corpos prometidos aos homens ainda meninas. Os pais casam suas filhas ao completarem 11 anos. O matrimônio forçado condena as meninas a gestações sucessivas com alto risco de mortalidade. Se a primeira gestação não acontecer, existe a imediata suspeita de que a mulher seja estéril. A esterilidade é quase uma maldição. Mesmo que a esterilidade esteja no homem, a mulher é culpada. Nesse caso, ela também poderá ser devolvida à sua família. A mulher separada ou estéril dificilmente casará novamente.
Muitas são as lutas internas de uma mulher moçambicana. É possível sentir o peso das emoções e da desigualdade que elas carregam. Mas também não se fala nisso. Não há questionamentos contra o sistema patriarcal.
Pensando nelas, foi criado um programa de apoio pelas voluntárias, apelidado carinhosamente por mim como “clube do bordado”, no qual todas as quartas nos reunimos para aulas de costura e bordado. É agulha para cá, linha para lá, a sala se torna pequena e quem chega se acomoda em esteiras no chão ou onde tiver espaço. Barulho de risada para um lado, barulho de máquina de costurar para o outro, o que é produzido é vendido e o dinheiro fica com elas. Um projeto que nasceu para ajudá-las a terem mais autonomia e a fazerem outra atividade além dos trabalhos pesados do dia a dia. O processo é longo e demorado. Devido ao contato desde pequenas com trabalhos muito pesados, muitas não têm habilidades com trabalhos mais delicados, mas a vontade de aprender ultrapassa o passado doído e se transforma em um futuro esperançoso.
ABRAÇO
A cultura moçambicana não é de abraços. Aliás, abraço é uma das coisas de que mais sinto falta. Cumprimentos são só apertos de mão, mas, quando a dor já faz parte de um lugar e de um povo, o que me resta é abraçá-la forte sem pensar duas vezes.
A Moçambique que foi palco de uma guerra civil está bem longe de ser esquecida e as dores dos machucados ainda são bem presentes. Volta e meia é possível ver marcas dos conflitos. Cicatrizes no corpo dos mais velhos e campos ainda com minas terrestres enterradas são o reflexo da delicadeza de pisar em um solo castigado e que costuma ficar envolvido numa neblina de incompreensão e estereótipos. Sei que a minha existência não será validada pela decisão de sair da minha zona de conforto, mas pela segunda vez eu experimento a gratidão de ver uma África florescendo em meio a terra seca, revelando-se dentro de mim na simplicidade de uma vida que me faz acordar todos os dias como se eu estivesse no céu. ![]()
Publicidade




