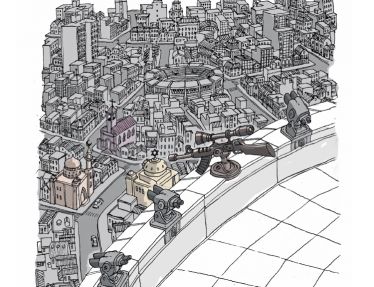
O bloco que veio do mar
Banhistas do Pina foi criado nas primeiras décadas do século XX, numa comunidade erguida sobre a areia preta molhada pela maré, por trabalhadores das classes populares
TEXTO SOFIA LUCCHESI
FOTOS CHICO LUDERMIR
01 de Fevereiro de 2018

Desfile do Banhistas do Pina no Pátio de São Pedro, Recife
Foto Chico Ludermir
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 206 | fevereiro 2018]
Foi o mar quem deu o Banhistas do Pina, criado há 86 anos na antiga Ilha do Bode, no bairro do Pina, Recife, por um grupo de pescadores, lavadeiras e estivadores que queriam sair nas ruas cantando carnaval. Desse solo fértil de mangue, alimentado pelas águas do mar, formou-se um território cultural tão poderoso quanto seu ecossistema. Assim era o Bairro do Pina em 1932, ano de fundação do bloco lírico. A maré ia e voltava, entrava e saía das casas de palha e chão batido de areia preta da maré. Era mangue, era mar. A comunidade sobrevivia da riqueza do mar, as ruas e casas eram iluminadas por candeeiros. Naquele tempo, não chegava luz ao conjunto de ilhas do Pina, e os sinais de urbanização ainda eram poucos. Tinha peixe, tinha marisco. E, com a lama do mangue, o povo aterrou a Comunidade do Bode.
Ao longo desses 86 anos (comemorados no dia 3 deste mês) de (re)existência no Bode, o Banhistas passou por períodos de continuidade e descontinuidade, recentemente quase entrando no esquecimento, tendo sido rebaixado de categoria no Concurso de Agremiações Carnavalescas da Prefeitura do Recife – competição na qual acumula mais de 20 títulos – depois de ficar longe do carnaval nos anos 2013, 2014 e 2015. Neste 2018 em que o bloco retorna ao Grupo Especial, a Continente acompanhou a sua preparação para a folia até o mês de janeiro, buscando investigar os caminhos de sobrevivência que caracterizam essa agremiação, que afetos coletivos são os que unem e impulsionam sua força, cuja história é também um retrato do que se passa com a maior parte das agremiações carnavalescas de Pernambuco.
***
Dezembro de 2017 — Pina, Recife.
Faltam pouco menos de dois meses para o Carnaval, e o Banhistas faz seu último acerto de marcha do ano (ensaio aberto), dessa vez fora da sede, na “Rua da Praça” – como é conhecida a Rua Artur Lício, na Comunidade do Bode. O grupo de coralistas formado por seis senhoras, acompanhadas por orquestra de instrumentos de corda, percussão, e metais, canta: Não deixe não que o bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar…
“Olhe, tá um aperreio! Este ano, só começamos a costurar as roupas agora em dezembro, por falta de verba”, explica Titinha, coralista e costureira, depois do ensaio. “Ontem, passamos o dia inteiro no ateliê costurando. Em janeiro, vai ser assim todo dia, de manhã, de tarde e à noite costurando, até dia de domingo. Tá tudo atrasado, mas o bloco tem que sair!”
***
Entra pela lateral direita da Igreja do Pina, vira à direita, depois à esquerda na Rua São Luiz e segue reto até ver a sede do bloco ao lado direito. Qualquer coisa é só perguntar onde é a sede do Banhistas, todo o mundo sabe. Vai ter feijoada!
Rua São Luiz, s/nº, Pina, Recife. “Tem gente que quer viver da cultura, e não para a cultura. Eu não vivo do Carnaval, eu vivo para o Carnaval”, afirma Seu Vavá, sentado numa das mesas do vasto salão que abriga a sede, enfeitado com bandeiras azuis e brancas, cores oficiais do bloco. Lindivaldo Oliveira Leite, 82 anos, conhecido como Seu Vavá, ou ainda, “Vavá de Banhistas” – “é como se fosse meu sobrenome”– é presidente do Banhistas do Pina. Eleito Cultura Viva da Cidade do Recife, Vavá nasceu e criou-se na Comunidade do Bode. Seus pais, Julieta e Pedro Leite, estavam entre aqueles moradores que, em 1932, fundaram a agremiação, que, diferente de outros blocos do período, pertencentes às camadas médias da sociedade, nasceu das mãos e vozes da periferia.
Seu Vavá, presidente do bloco, segura o flabelo na sede
“Os meus avós eram coquistas (que comandam sambada de coco, ciranda), eram do interior de Goiana, por ali. Minha mãe chegou à Ilha do Bode com a cultura no coração, ainda mocinha. Ela e outras mulheres cantavam pastoril, e queriam cantar no Carnaval. Na época, bloco era coisa da elite, da classe média, mas elas saíram na rua cantando mesmo assim”, conta Vavá. Ele e o Banhistas já viveram, literalmente, muitos carnavais: viram o Pina deixar de ser Ilha, a palha e madeira das casas do bairro serem substituídas por alvenaria, os candeeiros virarem lâmpadas com a chegada da luz, e a família Banhistas do Pina chegar à sua terceira geração.
Sociólogo de formação, Vavá nasceu no mesmo ano que a Federação Carnavalesca de Pernambuco, 1935, na qual foi figura atuante, e viu o auge do carnaval de rua no Recife. Hoje, seu filho caçula, o historiador e produtor cultural Lindivaldo Oliveira Leite Júnior – Júnior Afro –, 50 anos, dá sequência à tradição, atuando como carnavalesco e produtor do bloco. “Eu desfilo no Banhistas desde os 9 anos de idade. Desde os 20 anos, ajudo no carnaval do Banhistas, e é assim todo ano. Mesmo quando eu trabalhava em dois empregos, sempre no final do ano largava um deles pra preparar o bloco pro Carnaval”, diz Júnior, que aprendeu a costurar e desenhar na vivência com o bloco durante a adolescência, sob tutoria de sua mãe, Lalá, e de Seu Jones, antigo figurinista.
Como uma grande árvore de afetos e memórias, cujas ramificações estendem-se em laços para além dos sanguíneos, outra figura importante da “família” Banhistas é Titinha, como assim prefere ser chamada. Quando tinha 13 anos, após a separação dos pais, Titinha foi morar na casa de seus vizinhos, Vavá e Lalá, na antiga Rua do Caju (atual Rua Eurico Vitrúvio). Hoje, aos 65 anos, ela é costureira, ofício que aprendeu nos muitos carnavais de Banhistas. Além de comandar a costura das fantasias, Titinha integra o coral.
Titinha, a costureira do Banhistas, do qual participa há mais de 40 anos
“Eu nasci e me criei aqui nesse Bode, nasci na Rua Oswaldo Machado. O Banhistas era de palha, de taipa e chão batido de areia preta da maré, e todo fim de semana tinha gafieira. Na casa onde eu nasci não tinha cama, era tudo rede. Aos poucos, as coisas foram mudando, as casas foram ganhando telha, madeira e aos poucos se tornando alvenaria. A maioria das casas aqui são todas casas próprias, das pessoas que sempre moraram aqui, da família”, rememora.
Na época em que morava com a família de Seu Vavá e Dona Lalá, Titinha viu nascer Júnior Afro. Pouco menos de uma década depois do nascimento de Júnior, outro membro da terceira geração de “Banhistas” nascia: filho de Titinha, João Carlos Lima, hoje com 41 anos, é músico, sonoplasta e artista plástico, que, assim como Júnior, começou a desfilar no bloco quando ainda era criança. É maestro da bloco, tendo conquistado junto a ela o último campeonato no Grupo Especial, em 2012, quando a agremiação comemorou seus 80 anos de história.
***
Pode-se dizer que o Bode é um “território cultural”. Traçando uma espécie de “cartografia cultural-afetiva”, a própria referência de orientação de algumas ruas da comunidade é dada a partir das sedes de agremiações. A Rua São Luiz é “a rua do Banhistas”, a Rua Eurico Vitrúvio, antiga Rua do Caju, é “a rua do Porto Rico”, o Maracatu Nação Porto Rico, e por aí vai. Esses lugares representam uma certa “apropriação simbólica” do espaço, que se constrói a partir do tempo vivido e do acúmulo de memórias, pela tradição, criando uma identidade local coletiva que territorializa o espaço.
“Todo movimento cultural do Recife ligado à negritude passou por aqui. Tanto a Terça Negra, quanto os grandes afoxés passaram a andar por aqui, a visitar. Nesses grupos culturais lá de fora, sempre tem gente do Pina, porque aqui o pessoal gosta muito de tocar, gosta muito de samba, de religião, de maracatu, de bloco. É uma veia cultural muito marcante”, explica Edson Torres, de 55 anos, “Banhista” associado às lideranças comunitárias. “A cultura também é algo que potencializa a resistência daqui, que é muito forte. A gente vem de uma história de resistência para conseguir morar aqui no bairro, porque a especulação imobiliária tem avançado cada vez mais, mas as empresas têm medo de chegar aqui porque sabem que somos muito fortes”, complementa Edson.
Oriundo de um lugar de intensa religiosidade, a simbologia do Banhistas também é atravessada por conotação religiosa. As cores oficiais do bloco são azul e branco, como o manto de Nossa Senhora da Conceição, a quem Julieta Leite era devota e cuja imagem está fixada na sede da agremiação. Não por acaso, azul e branco também são as cores de Iemanjá.
“A década em que surgiu o bloco, 1930, foi marcada pela perseguição aos terreiros de candomblé. O azul e branco significam o mar. Apesar da imagem de Nossa Senhora da Conceição estar aqui, a gente sempre entendeu que tem uma relação com Iemanjá por conta do sincretismo religioso. Porque muitas vezes as pessoas têm dois pertencimentos religiosos. A data de fundação oficial do bloco é 3 de fevereiro, pertíssimo do dia de Iemanjá (2 de fevereiro). Eu não posso falar de banho de mar, de azul e branco, sem falar de Iemanjá. Existe uma relação sincrética nas cores”, enfatiza o carnavalesco Júnior Afro.
Júnior Afro, carnavalesco e produtor do bloco
Para exemplificar o que acontecia às religiões de matriz africana na década de fundação do bloco, foi criada na Ilha do Bode, em 1938, a Troça Mista Rei dos Ciganos, cuja verdadeira identidade, à data, configurava-se como um candomblé disfarçado de agremiação carnavalesca.
Atentando ainda ao aspecto histórico-cultural do bairro, que teve uma grande ebulição nos anos 1980 e 90, já existiram na localidade uma série de troças, clubes de frevo, grupos de samba, entre outros, que encerraram suas atividades. O maestro João Carlos lembra o tempo de sua juventude, que coincidiu com o período de efervescência cultural no Pina: “Tinham muito mais quadrilhas, hoje só existe a Lumiar, da qual eu sou um dos fundadores. Tinha muita gafieira, o antigo Líbano Brasileiro, que tinha dança, e uma danceteria chamada Sucata. Também, uma boate na esquina da Rua Herculano Bandeira com a Antonio de Goés, chamada Boytoy, e uma outra discoteca aqui na comunidade, chamada Playbug. Eram as coisas que a gente tinha aqui na época, que aos poucos foram se acabando. Hoje domina o brega”, situa João.
Titinha, saudosa dos tempos de gafieira, observa outros fatores para a desaparecimento de antigos grupos, ressaltando o fato de que muitas sedes acabaram se tornando templos, alguns brincantes aderiram à religião evangélica, ou simplesmente faliram. “Aqui, tinha muita gafieira: a 12 de Julho, Expressinho, Olaria, Arsenal, Combinado, Danúbio, Jangadeiro. Muitas foram virando igrejas. Onde era a Combinado, virou igreja. Onde era o Arsenal, agora é casa de moradia. O Olaria também virou casa de moradia. O Expressinho virou colégio. A 12 de Julho virou igreja. O Danúbio também. Tinha a Bateria 50, que era enorme, escola de samba mesmo, que o dono e toda a família viraram evangélicos.”
O maestro João Carlos Lima comanda a orquestra do Banhistas
***
A movimentação nas noites do Pina era o motor que viabilizava a continuidade do Banhistas, que se sustentava financeiramente como espaço de entretenimento, realizando eventos, como festas e gafieiras. A crise do bloco se dá também pelo esvaziamento desses eventos, que costumavam acontecer à noite, e tem decaído, em parte, segundo os integrantes do bloco, por causa do clima de insegurança gerado pelo aumento da violência.
“As atividades culturais, as relações comunitárias também deveriam fazer parte das políticas de combate à violência. A própria polícia poderia dialogar com esses grupos, porque, quando ela chega pra fazer ações, acaba atrapalhando os ensaios, como a gente já viu acontecer com o maracatu por aqui. As políticas sociais, culturais e de prevenção à violência deveriam estar interligadas. Esse é um caminho para se trabalhar. Quando uma comunidade mantém durante 85 anos um espaço dançante, ela está dizendo o quanto é fundamental ela se encontrar pra ouvir música e dançar. Qual é a tarefa do poder público diante disso, quando a violência está se sobrepondo diante disso?”, argumenta Júnior Afro. “A gente viu que essa dinâmica da noite não estava funcionando muito bem, então tivemos que repensar. Estamos trabalhando outros tipos de ações, integrando-se com outros grupos culturais, como os de hip-hop e grafitagem, tentando aproximar os jovens do bloco. Teve uma festa aqui do pessoal do hip-hop que deu muita gente.”
“É preciso enxergar que, no Banhistas, existe um potencial, as pessoas vêm aqui pra dançar, tem garçom, pessoal da limpeza, DJs… aqui tem profissionais trabalhando, além de movimentar a rua, os bares da frente. Pro carnaval, tem a costureira, a bordadeira… existe uma cadeia produtiva da cultura que a política pública local não enxerga. Deveria existir uma relação contínua do poder público com essas sedes, com esses lugares, com esses territórios. A municipalidade tem uma tarefa diferenciada, porque tem a possibilidade de ficar mais perto disso, e não fazer um edital que premia à distância, pois isso o estado já faz”, opina o produtor Júnior Afro, que tem feito um trabalho de resgate de canções do bloco para produção de uma publicação em CD, além de articular a criação de um centro de memória, apostando na força da tradição para superar a crise.
***
Para além da falta de subsídio do poder público, principal razão apontada para a descontinuidade desses espaços, a cultura de raiz convive com outras “forças de pressão” que interrompem seus processos de continuidade, desde a globalização e as novas tecnologias, trazendo modificações nos modos de consumir informação e produtos culturais, ou até mesmo o surgimento de outras manifestações locais. Na sede da mesma agremiação que canta frevo de bloco são realizadas festas de brega, ritmo hoje muito tocado nas periferias do estado, bem como consumido pela classe média.
Outras questões que podem ser levantadas para o distanciamento entre o público e a agremiação, e que podem ser analisadas numa perspectiva maior, considerando que diversas agremiações de frevo têm desaparecido, é o fato de que o ritmo tem perdido espaço. “O frevo parou de tocar no rádio. Só se ouve frevo no Carnaval, e só alguns. E são os mesmos, que só se conhece por causa desse ciclo. Como é que as pessoas vão se relacionar com o frevo, se crescem sem ouvi-lo?”, questiona o jornalista e pesquisador da música popular José Teles, autor de livros como O frevo rumo à modernidade e Do frevo ao manguebeat.
Coralistas cantam repertório do bloco que inspirou Getúlio Cavalcanti a escrever o clássico 'Último regresso'
“As músicas de frevo conhecidas foram compostas por pessoas com mais de 40 anos. A gente não vê novos compositores de frevo. Até porque, por exemplo, é muito difícil de criar, pois o músico de frevo faz a música, a orquestração, o arranjo, escreve para todos os instrumentos. No manguebeat, ninguém fez frevo, nem regravou frevo. Ninguém regrava mais frevo. Então, a música não fica contemporânea. Muitas composições foram esquecidas, porque, para se consolidar como clássico, é preciso ser regravado por alguém”, analisa Teles.
Já o carnavalesco e pesquisador Júlio Vila Nova, presidente do bloco lírico Cordas e Retalhos, argumenta sobre um certo estigma acerca dos blocos líricos e do frevo tocado por esse tipo de agremiação. “Há uma reprodução de um discurso, inclusive no jornalismo cultural, de que o frevo de bloco é uma música monotemática, unicamente passadista, saudosista. Mas, se olharmos para as letras dos hinos, esse tema não está presente. Lindas praias, de Luiz Faustino, hino do Banhistas, é um exemplo, pois fala da beleza do litoral recifense e da vida praieira (ouça aqui). Existem muitas letras assim, é verdade, até porque a saudade é um sentimento que acompanha o Carnaval, porque a nostalgia já começa antes mesmo da Quarta-feira de Cinzas. Mas esse discurso acaba afastando as pessoas mais jovens dos blocos”, avalia.
No carnaval do Recife, há uma grande valorização de atrações que tocam outros tipos de ritmo. Existe também uma valorização do carnaval de “palco”, que ocupa os principais polos carnavalescos, somando-se a essa equação de disputas pela ocupação dos principais espaços a emergência do carnaval privado nessas áreas, dos camarotes e shows pagos, enquanto os blocos e agremiações são postas em locais distantes. No Bairro do Recife, por exemplo, em 2017, a festa privada Parador foi colocada muito próxima aos dois principais polos de palco da Prefeitura do Recife, o Marco Zero e Cais da Alfândega (festival Rec-Beat).
Em um comparativo com o carnaval do Recife, o de Olinda tem mantido a característica de rua. As prévias realizadas nas sedes de troças como o Cariri Olindense e a Pitombeira dos Quatro Cantos, respectivamente com 80 e 97 anos, bem como em seus desfiles no Carnaval, tem agregado um público diverso em idades e classes sociais, mantendo a tradição e ressignificando-a para o público jovem. A diretora de comunicação do Cariri, Mônica Siqueira, que também integra a Sodeca – Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta, atenta para o fato de que a tentativa de camarotização também ocorreu nas ladeiras, mas foi barrada pela sociedade civil organizada.
“Até 2012, as orquestras de frevo não tocavam o hino do Cariri, agora todos tocam. Então, isso indica que temos visibilidade, mas isso foi acontecendo ao longo da criação de projetos. Temos no Cariri um contexto parecido com o Banhistas, pois estamos localizados em uma comunidade (a olindense Guadalupe). Cariri já está na quarta geração da família que mantém a troça. Movimentamos a sede o ano inteiro, com aulas de frevo para os jovens, de forma a incentivar o contato da juventude com o frevo, com shows, festividades. Além disso, temos a Confraria do Cariri, e realizamos debates científicos do frevo, fazemos reuniões com a comunidade, para que a Confraria seja o braço direito da diretoria, e também realizamos intercâmbios com outras organizações culturais”, explica Mônica, sobre as estratégias de renovação e interação do Cariri, ressaltando, entretanto, que o fato da troça ter ganhado título de Patrimônio Vivo de Pernambuco tem ajudado nos custos, recebendo uma bolsa vitalícia.
***
Janeiro de 2018, São José, Recife. Ensaio aberto dos blocos líricos.
Escutando o final da apresentação de outro bloco, Titinha diz, orgulhosa: “Não tem quem cante igual à gente, não”. O grupo antecessor se retira, a orquestra do Banhistas do Pina sobe ao palco e vai se preparando. O mestre de cerimônia descreve: “Uma das mais tradicionais agremiações da história do Carnaval do Recife, com 85 anos de vida”. O apito anuncia, seguido pelas marcações ritmadas do bumbo. Os violões dedilham os primeiros acordes de Lindas praias.
O Pátio de São Pedro está em festa.![]()

SOFIA LUCCHESI é estudante de jornalismo e estagiária da Continente.
CHICO LUDERMIR, jornalista, escritor, artista visual e mestrando em Sociologia pela UFPE.
Publicidade




