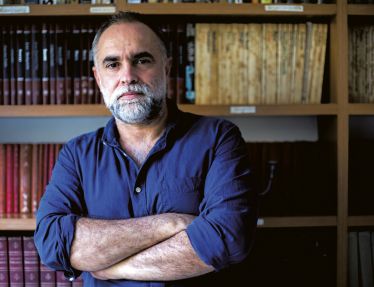Na rota dos viajantes
Leia trecho do livro 'De rochedo a arquipélago – A emergência de São Pedro e São Paulo na pesquisa científica brasileira', de Raimundo Arrais, publicado pela Cepe Editora
TEXTO Raimundo Arrais
01 de Setembro de 2018

Arquipélago de São Pedro e São Paulo
Foto Raimundo Arrais
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 213 | setembro de 2018]
A TRAMA DAS ÁGUAS
Observando o ponto do Oceano Atlântico definido pelas coordenadas 00o,55’10’’N e 29o20’33’’W, nas imagens fornecidas pelo satélite do Google, direcionando o foco para uma altitude de 10 quilômetros, nada avistaremos abaixo das nuvens a não ser uns pontos indistintos. Reduzindo a distância para dois quilômetros, já conseguimos divisar um conjunto de rochas. A 500 metros, dependendo das condições do céu, os rochedos podem mostrar o aspecto da imagem acima, um aglomerado que poderia ser tomado como uma nuvem entre nuvens, não fossem os seus contornos mais duros e as cintilações produzidas pelo sol equatorial sobre as águas no momento em que elas se chocam contra as rochas. Esse grupo de rochas é conhecido hoje como Arquipélago de São Pedro e São Paulo.
De outra vista, a perspectiva sob a qual ele foi avistado e descrito antes da era dos aviões, em condições de céu limpo o arquipélago aparece ao olho nu quando o navegante se encontra a uma distância de aproximadamente dez quilômetros. Quando o vi pela primeira vez, numa manhã de março de 2014, ele me apareceu como uma pequena mancha irregular na base do horizonte.
Suas medidas são irrisórias, quando levamos em conta que sua superfície ocupa 17 quilômetros quadrados de área emersa dentro dos 85 milhões e meio de quilômetros de extensão do Atlântico. A maior elevação que essas rochas alcançam não chega a 20 metros. Mas essas medidas, que enunciadas assim, não significam muita coisa para o indivíduo que se encontra ali, os pés sobre as rochas. Quando o sujeito observa o mundo sem se valer dos parâmetros da ciência, ele se indaga sobre como é possível se obter qualquer precisão nas medidas relativas ao conjunto das rochas, porque aquela miríade de pontas ásperas forma um conjunto de tal modo irregular que é impossível ser abarcado pelo olhar de qualquer ser humano que se posicione sobre qualquer ponto que seja.
Em perspectiva aérea, sem o emprego de máquinas, os únicos seres capazes de obter uma visão de conjunto, ainda que sacrificando os detalhes, são aqueles que podem realizar o que em linguagem artística se chama “voo de pássaro”, ou seja, os pássaros, os atobás e viuvinhas que recobrem o lugar, e uma ou outra espécie viajante que, ocasionalmente, provindo de lugares distantes, realiza escala nos rochedos. Mesmo o número total de rochas que formam o conjunto de São Pedro e São Paulo, se observarmos o assunto na escala de dois séculos, tem variado segundo o olho de cada observador, conforme o critério empregado para definir o que se designa como “rocha” e o que se designa como “ilhota”.
Em São Pedro e São Paulo, a ilhota Belmonte é a única superfície em que a ocupação humana se mostrou possível. Toda a história da presença humana em São Pedro e São Paulo se deu numa parte restrita dos 400 metros de extensão dessa ilhota. Na Belmonte foi instalado um farol em 1995 e uma estação científica em 1998. É sobre essa rocha que se passa a história relatada neste livro. Numa escala mais ampla, entretanto, essa história se passa no conjunto de rochas que forma o Arquipélago de São Pedro e São Paulo e isso tem a ver com o ponto de partida que adotamos: o entendimento segundo o qual o mar é uma “construção social”, ou seja, o mar é um espaço material da natureza, submetido a processos de apropriação por parte de organizações humanas. Com base nisso, como veremos, empregamos a imagem dos rochedos se prolongando, a partir de mecanismos que procuraremos descrever ao longo destas páginas, muito além dos seus 17 quilômetros, avançando até alcançar a parte continental do Brasil.
***
No navio-patrulha oceânico Araguari, da Marinha de Guerra do Brasil, os passageiros se acercam da proa e contemplam a aparição do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Para o comandante, estacionar nos rochedos é uma operação sem complicações. O lugar não conta nem com porto nem ancoradouro, e o navio permanecerá a distância. Os poucos visitantes são transferidos em pequenas lanchas equipadas com motor de popa até o barco pesqueiro da Transmar, posicionado cerca de 300 metros dos rochedos. Do Transmar, outra lancha nos conduzirá até a pequena enseada que permite subir à ilhota Belmonte.
Desembarcados nos rochedos, postados no alto das rochas, dirigindo o olhar para o entorno além das rochas, podemos divisar o Araguari, seus 90 metros de comprimento e suas linhas elegantes, parecendo plantado sobre as águas. Do Transmar, sob o comando do mestre Aristides, as lanchas continuam no vaivém, embarcando e desembarcando mais visitantes. Essa movimentação toda entre o Araguari, o Transmar e as rochas, somada à imagem do farol, da estação científica, do pavilhão nacional e dos equipamentos fixados na ilhota Belmonte para apoiar a pesquisa e prover a segurança dos ocupantes da estação representam uma rede complexa de meios, agentes e instituições brasileiras estendidas sobre esse pequeno ponto do Atlântico Norte. Mesmo na mente do mais alheado dos visitantes, mesmo ainda que ele não perceba o Arquipélago São Pedro e São Paulo como um conjunto articulado a um sistema complexo, o cenário faz surgir a suspeita de que a existência daquelas estruturas montadas e a movimentação em torno delas deve envolver grandes custos operacionais, e que, por conseguinte, a manutenção do lugar deve representar grande importância para os interesses nacionais. E, de fato, como veremos ao longo deste livro, o raciocínio está correto.
Em São Pedro e São Paulo, a operação desembarque não apresenta dificuldade. Mas para o artesão da pesquisa que originou este livro, a partir do encontro com eles, nos instantes que precederam o desembarque, e depois, no alto, postado sobre as rochas, a questão que acompanhou todo o empreendimento que gerou este livro, desde o seu início ganhou um caráter de urgência: como abordar esses rochedos? (abordar na condição de pesquisador, não de marinheiro). A pergunta é pertinente e inevitável porque, a princípio, o oceano é um objeto estranho e particularmente desafiador para o historiador e este é um livro concebido e realizado em perspectiva histórica.
Aos historiadores que se ocupam da parte continental do país — o espaço onde a sociedade humana se movimentou e se multiplicou, ao longo de séculos, na direção de novas fronteiras — o oceano não despertou interesse. Ainda que desde o século XIX estudos no domínio da geografia reconhecessem o potencial das águas oceânicas para proporcionar riqueza e poderio às nações, historiadores, tanto quanto homens de negócios e governo se mantiveram distantes do mar e nas ocasiões em que os historiadores se voltaram para o oceano o encararam de um ponto de vista restrito, tomando-o como um “espaço de circulação e de comércio cuja natureza em si mesma não é levada em conta”.
É verdade que existe um domínio da história conhecido pelo nome de “história marítima”. Contudo, poucos brasileiros se consagraram a ele. Uns poucos têm se especializado nesse domínio de conhecimento, particularmente nas histórias sobre navios e suas técnicas de fabricação, compreendendo sua trajetória de vida e morte, dos estaleiros à sucata; por vezes têm analisado batalhas navais, frequentemente destacando os lances que custaram vidas e renderam mais glórias à Armada nacional. Alguns têm mensurado os volumes de mercadorias transportadas de porto a porto nas rotas de cabotagem ou a longas distâncias. Outros se debruçaram sobre as expedições científicas que palmilharam os oceanos nos séculos XIX e XX; por vezes esmiuçaram o campo da geopolítica, reconstituindo a evolução da legislação construída para regular o uso e a posse sobre os mares, ou analisando como as cartas dos oceanos foram sendo traçadas e estendidas sobre as mesas de negociação entre as nações imperialistas. Entre esses estudos de historiadores encontraremos também um pouco sobre a vida de piratas e de aventureiros que entraram para a legenda.
Neste livro, a questão que consiste em “como abordar os rochedos” talvez não tenha sido respondida cabalmente dentro do rigor exigido pela complexidade dos rochedos de São Pedro e São Paulo, mas ao longo das páginas que se seguem esperamos persuadir o leitor da necessidade de prestarmos atenção aos variados modos como os seres humanos e suas instituições têm se relacionado com ilhas e rochedos. A pequena extensão desses rochedos — ocupando uma área menor do que as manchas silenciosas e fatídicas de lama e minério de ferro que em 2016 romperam as comportas da Vale do Rio Doce, arrasando o que encontraram pelo caminho, coisas e vidas e, deslizando na direção do Atlântico — deveria, a princípio, facilitar nossa tarefa, permitindo que circunscrevêssemos na área estrita dos rochedos um enfoque preciso, coordenando os fios dos saberes de inúmeras ciências e dirigindo-os para um mesmo alvo, aqueles 17 quilômetros de circunferência de rochas visíveis aos olhos humanos, no esforço de apreender a complexidade que se estende, por exemplo, da geologia dos relevos submarinos aos parasitas que habitam o corpo dos pássaros.
Entretanto, ainda que o autor deste livro apresentasse competência para levar longe a prática de interdisciplinaridade necessária à compreensão de um ambiente atravessado por estreitas interações, ainda assim, no intervalo de mais de 100 anos a que restringimos nosso estudo, seria impossível realizar cabalmente a tarefa. Somente numa perspectiva histórica, tendo como fio condutor os eventos humanos que se passaram nos rochedos, pudemos atender muito modestamente a essa ambição, aproximando-nos, ainda assim de modo cauteloso, deixando de fora desse domínio a complexidade do ponto de vista de seus aspectos físicos e bióticos.
Um exemplo da complexidade que interessa ao historiador reside na relação entre esses rochedos e os centros decisórios a partir de onde vibram as pressões econômicas, os imperativos da política nacional e por onde passa o olho guloso das nações e suas estratégias geopolíticas, que rebatem sobre eles. A abordagem histórica que adotamos nos permitiu narrar um período curto da existência de São Pedro e São Paulo, sugerindo em algumas passagens a complexidade dos fenômenos que afetaram seu destino.
Esse destino dos rochedos resultou de várias situações: quando eles começaram a figurar, para os legisladores e políticos do continente, como uma espécie de sombra de uma ausência, mas também quando instituições e homens se mobilizaram e mobilizaram meios para se deslocar até eles e a partir de então passaram a encará-los de outra perspectiva que não a simples curiosidade. Por conseguinte, o objeto deste livro não incide apenas sobre os rochedos, na sua existência geológica, as vidas animais e vegetais que eles abrigam, os fenômenos físicos e químicos complexos que se desenrolam em torno deles. Estes aspectos, aliás, recebem o menor quinhão do livro. O livro incide, em sua maior parte, sobre a ação de um conjunto de indivíduos que, em circunstâncias muito precisas, ligaram suas vidas a esses rochedos.
Sob o ponto de vista estrito da representação cartográfica, podemos afirmar que esses rochedos, numa carta marítima ampliada muitas vezes, figuram (nesta narrativa o topônimo “São Pedro e São Paulo” figurarão ora no singular ora no plural, variando conforme o sentido que lhe for atribuído: “arquipélago” no singular e “rochedos” ou “penedos” no plural) como o pingo de um lápis de ponta muito fina quase sobre a linha do Equador. Fora das coordenadas em que está inscrito, porém, ele pode ser localizado em inúmeras outras tessituras. Os rochedos se situam dentro de enquadramentos que, mesmo que não tenhamos tido condições de, em nossa abordagem, explorar o assunto até as últimas consequências, sempre que possível procuramos não ignorar: a complexidade das interações que ocorrem no mundo natural, no meio do oceano, entre a rocha, a água e o ar, afinal de contas, “O mar se move com o som de muitas escalas...”. Nossa intenção, neste livro, é que o mar vibre nesse diapasão ao longo de toda esta narrativa.
O interesse maior deste livro é procurar demonstrar o que acontece e o que aconteceu para que, do ponto de vista da história dos homens, os rochedos, por assim dizer, “viessem à tona”. Diferentemente da perspectiva da história geológica, na delimitação que adotamos, podemos dispor do tempo recortando-o de diversas maneiras: às vezes um conjunto de décadas, de anos, às vezes um dia. Por vezes, é evidente a vinculação desse recorte de tempo a certos processos associados à história do Brasil. Pode acontecer, entretanto, que em algumas passagens que receberam um tratamento menos objetivo, por um momento os rochedos apareçam como se tivessem à deriva no tempo.
Dedicamos atenção ao fato de que o Arquipélago representa um exemplo particular de apropriação de um meio natural, o oceano, realizada pelo Estado brasileiro, e igualmente o fato de que esse processo se consolidou no momento em que a pesquisa científica se voltou decisivamente para aqueles rochedos. Procuraremos evidenciar o modo como diversos sujeitos se articularam no tempo (o governo brasileiro, a sua Marinha de Guerra, os pesquisadores, os aventureiros de todo gênero), e como em dado momento seus atos convergem, independentes uns dos outros, para que os rochedos, ou penedos, como outros o chamavam, fossem convertidos no “Arquipélago de São Pedro e São Paulo”. A partir de um dado momento, nós nos encontraremos diante de uma nomenclatura nova, arquipélago, que corresponde a um novo lugar que os rochedos ocupam dentro da sociedade internacional, um conceito que se liga a um sistema. Esse sistema consiste numa “rede impessoal de pressões e interesses” que vinculam os Estados às sociedades, definidas como um “conjunto de regras comuns, instituições, códigos, valores e condutas”.
 Imagem: Reprodução
Imagem: Reprodução
Um dos vícios do trabalho intelectual do historiador, há muito condenado, tem sido lançar-se à procura da gênese dos processos com os quais ele se confronta. Este livro procurou escapar a esse vício, mas isso não lhe assegura mérito, porque escapou dele, digamos, por insuficiência de meios em São Pedro e São Paulo, aqueles meios que balizam a metodologia dos historiadores e conferem credibilidade a seus resultados, ou seja, os documentos. De fato, constatamos logo nos passos iniciais da pesquisa que era irrealizável a intenção de recobrir a história de São Pedro e São Paulo desde as primeiras notícias que conseguimos recolher, situadas no início da Era Moderna, em razão da dificuldade de obtermos registros sobre os rochedos no seu passado mais remoto. Insistir nesse caminho, percebemos isso no decorrer das pesquisas, seria investir num tipo de abordagem que resultaria numa sequência de fatos dispostos sobre aquele grande fio condutor do tempo cronológico (e provavelmente ordenados dentro de uma narrativa rala), resultando em alguma coisa que os historiadores contemporâneos têm resistido a reconhecer como história.
Renunciamos, portanto, àquela procura dos começos. Para efeito deste livro, o corte que efetuamos no século XX, iniciando a narrativa com acontecimentos situados nas primeiras décadas do Novecentos embora sem deixar de realizar algumas incursões na direção de períodos anteriores, equivale a deixar para trás uns três séculos da existência histórica dos rochedos. Em compensação, essa delimitação adotada nos permitiu observar os rochedos no centro de certas articulações que fazem parte do processo histórico do Brasil contemporâneo. Esse nos parece o melhor modo de tornar evidente como São Pedro e São Paulo se integra a uma história do Brasil. Justamente a partir do século XX os rochedos se distanciaram ainda mais daquela sombra informe sob a qual apareciam na cartografia dos séculos XVI e XVIII e foram incorporados pela Armada nacional como escala nas viagens de formação dos guarda-marinhas. O estatuto brasileiro de São Pedro e São Paulo foi colocado em discussão na imprensa e no parlamento nas primeiras décadas do século XX e daí em diante eles passaram a frequentar, com regularidade, as notícias que circularam no continente.
A resposta precisa sobre como teve início o projeto de pesquisa que resultou neste livro me parece relevante e poderia ser formulada de modo simples: a oportunidade de inscrever um projeto no Programa de Apoio a Pesquisas no Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Proarquipélago), lançado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e o encadeamento que este projeto permitiria estabelecer com uma pesquisa anterior, que havia sido concluída pouco tempo antes. Mas, num certo sentido, também posso afirmar, sem exagero, que este livro e o documentário que o acompanha se originaram de uma tragédia.
Era o início do ano de 2009 e eu me encontrava na França procurando notícias dos pilotos que no período anterior à Segunda Guerra Mundial atravessaram o Oceano Atlântico entre Dakar, no Senegal, e a cidade de Natal, na costa brasileira, quando a televisão me surpreendeu com a notícia de que o Boeing 447 da Air France tinha sido lançado no fundo do Atlântico com 228 pessoas. A aeronave fazia um percurso semelhante ao que eu realizara três meses antes. Pude acompanhar pela imprensa diária as comoções, as operações de buscas feitas por franceses e brasileiros, o emprego de todos os meios de que dispunha a tecnologia aplicada ao oceano à procura de vestígios do avião e dos corpos. As buscas revelaram que as partes da aeronave se espalharam numa impressionante extensão do Atlântico, e no terceiro dia chegaram à descoberta de que o ponto sólido mais próximo onde foi encontrado um dos pedaços da aeronave estava situado a 150 quilômetros de distância a sudeste, e esse ponto era precisamente o Arquipélago de São Pedro e São Paulo.
Para comoção da França e do mundo dos aviadores, muitas décadas antes, em dezembro de 1936, quando os pilotos franceses há mais ou menos uma década haviam começado a percorrer, de modo regular, aquele mesmo trecho do Atlântico, procurando o caminho mais curto entre a Europa, África e o Brasil, Jean Mermoz, o jovem herói da Companhia Aéropostale, afundou no Atlântico sem deixar nada além de três palavras vibrando no rádio do pequeno avião. Entre a desdita de Jean Mermoz e a tragédia da Air France, outro acontecimento trouxe à tona o nome de São Pedro e São Paulo, no final da Segunda Guerra, no dia 4 de julho de 1944.
Trata-se do mais triste lance da história trágico-marítima do Brasil do século XX, iniciada com uma explosão na popa do cruzador Bahia, seu afundamento, a morte de centena de homens. Aqueles que escaparam à explosão, tiveram de passar pela provação dos náufragos, com seu cortejo de sede, fome e desespero. O acidente ocorreu na área da Estação 13, um dos campos de controle do Atlântico mantidos pelos Aliados, sob os cuidados da Marinha do Brasil, precisamente na localização 00 de latitude, 300 de longitude oeste. No continente, os jornais da época anunciavam o evento como um “acidente nos rochedos...”.
Dirigindo meu interesse para os rochedos de São Pedro e São Paulo, de certo modo eu continuava circunscrito, não exatamente ao mesmo tema, mas ao mesmo espaço da pesquisa que estava sendo finalizada naquele ano de 2009. Uns e outros, navegadores e aviadores dos anos 1920 e 1930 e navegantes, desde o início do século XVI, encontraram os rochedos no meio do caminho e não puderam deixar de prestar atenção neles. Todavia, na percepção dos pilotos que estudamos no projeto de pesquisa anterior, o oceano era um espaço vazio que devia ser atravessado a todo custo, na maior velocidade que suas máquinas voadoras permitissem. De certa forma, minha pesquisa anterior havia adotado a perspectiva dos aviadores, para quem a velocidade afetava fortemente seu modo de pensar e agir, acionado por um dínamo, a obsessão de reduzir o tempo dos voos e das permanências em solo. O tempo, e não o espaço era o que me interessava naquela ocasião, e, num certo sentido, posso afirmar que a história que eu ensaiara se passava no mínimo a 500 metros acima das águas.
Diferentemente, neste De rochedo a arquipélago..., a história dos rochedos incorpora a história de navegantes e aviadores que passaram sobre os rochedos e de todos aqueles que por vontade própria, ou contra sua vontade, permaneceram algum tempo sobre as rochas; a história daqueles que ainda hoje vivem a experiência da longa viagem que tem seu momento mais elevado quando os penedos aparecem no horizonte, e igualmente aqueles que mergulham nas águas para contemplar e examinar um reino complexo de extraordinária riqueza de formas e modos de interação que formam a vida subaquática de São Pedro e São Paulo.
Na passagem de um objeto de pesquisa ao outro, deu-se aquilo que Gilles Lapouge exprime com uma distinção entre duas formas como os homens do mar vivem o espaço oceânico. Ele tipifica dois modos de vida, aquela do mercante e aquela do pirata. O mercante sabe aonde vai, “sua tarefa é ligar um porto com um outro porto”. Para o mercante, “o mar é um espaço vazio, um ‘nada’ que se estende entre duas praias. Navegar é converter esse vazio, e, se podemos assim dizer, anulá-lo. É uma maneira de utilizar o tempo para abolir o espaço”. O pirata, diferentemente, valoriza o espaço, percorre-o sem cessar, e, quando ele persegue os navios mercantes, está desfazendo “fio a fio a rede que a sociedade tece sobre o mar. O navio pirata não é ligação, mas solidão. Ele desvia o mar de sua vocação. Mais ainda, ele o restitui à sua vocação inicial, tal como ela foi definida ao sair das mãos de Deus: abismo entre as terras.” De certo modo, poderíamos dizer que adotamos uma abordagem pirata neste livro.
Instalando nosso interesse no centro dos penedos de São Pedro e São Paulo, procuramos discernir certos processos econômicos, políticos, sociais, tecnológicos e psicológicos que tiveram lugar no continente e que afetaram o oceano, e especificamente esse ponto do oceano onde se localizam os rochedos de São Pedro e São Paulo. Este trabalho, portanto, privilegia o espaço oceânico. Para executar essa ideia, entretanto, uma dificuldade se impôs: diferentemente do continente, saturado de marcas humanas, o oceano não conserva os traços feitos deixados sobre o seu dorso. Como nas palavras desse grande tratado sobre o mar escrito no século XIX, comunicando ao leitor o estado de espírito que dominava o narrador, a bordo do navio, no momento em que ele deixa o porto e o périplo se inicia: “Como aspirei aquela aragem nômade! ... Como eu desprezava aquela terra cheia de postos de pedágio, aquela estrada comum, toda denteada pelas marcas servis de calcanhares e cascos! E pus-me a admirar a magnanimidade do mar que não tolera vestígios”.
Encontramo-nos, assim, diante da pergunta: como se reportar a essa memória produzida sobre o oceano (literalmente sobre o oceano) uma vez que o oceano é um espaço sem marcas, uma extensão aparentemente indistinta? Como capturar as experiências que os homens vivem dentro de um barco que se move sem deixar rastros, se dispomos de tão poucos registros da vida cotidiana e mesmo dos fatos excepcionais vividos no interior das embarcações que se lançaram na direção desses rochedos?
É possível que essa experiência decorrente da viagem ao arquipélago, certos fatos banais que ela suscita, reflexões e desejos que os indivíduos acumulam ao longo dos dias e noites no mar, os quais raramente são confiados ao papel — essa experiência refreada no ambiente restrito da embarcação às vezes vem à tona e se manifesta quando os homens se encontram na “terra firme” dos rochedos. O simples fato de, ao cabo de três dias e três noites de viagem, divisá-los no fim da viagem faz nascer no indivíduo uma sensação estranha, alguma coisa como “uma certa esperança e uma angústia vaga. Porque a poesia que se desprende das ilhas só é igualada pela força com que essas terras isoladas atraem os continentes”, escreveu um autor, ainda que não tendo em mente exatamente os rochedos de São Pedro e São Paulo, mas outras ilhas que os viajantes do mar esperavam encontrar nos seus tempos iniciais do Brasil.
Aquele que persistir na leitura das páginas que se seguirão compreenderá que a história do arquipélago não se reduz à origem e permanência de umas rochas fatídicas escondidas dos navegantes noturnos, como se tratasse de uma espécie de “Triângulo das Bermudas”, em menor escala, embora, é certo, como veremos, aqueles rochedos tenham produzido seus próprios mistérios. Pode-se mesmo dizer que eles nasceram para a história sob o signo fatídico de uma noite de abril de 1511, com as seis naus que levantaram ferros nas águas portuguesas para afrontar mais uma vez o Mar Tenebroso na direção da África.
Ouçamos essas vozes distantes e fragmentárias que, no meio de controvérsias, procuram informar a respeito das origens do topônimo São Pedro e São Paulo. Seguiam, as seis naus, sob o comando do “capitão-mor do mar” D. Garcia de Noronha, filho de D. Fernando de Noronha, o qual, fazendo a volta da Guiné, se perdera à noite em um penedo “que acharão no meyo daquelle golfão”, sendo socorrido por outra nau, a São Pedro, comandada pelo capitão Jorge de Brito, o qual “fez farol ás outras que vinhão na sua esteira: por razão do qual perigo, o penedo ouve o nome São Pedro, que hoje tem acerca dos nossos navegantes”. Já a Relação das naos e armadas da Índia informa que a nau comandada por Jorge de Brito se chamava Santa Maria da Luz, ainda que concordando que foi a nau sob o comando de Jorge de Brito que “descobrio o penedo de S. Paulo”. As origens dos nomes São Pedro e São Paulo continuam obscuros.
Por muito tempo eles estiveram ocultos na escuridão, iluminados vez por outra por algum relato saído da boca de um marinheiro, em algum porto ou taberna daquelas espalhadas pelos litorais ligados aos negócios transoceânicos, até que, em 1931 eles ganharam um farol, que piscou por breves meses e depois se apagou. Desde 1995, eles passaram a exibir um novo farol, e pouco tempo depois receberam uma estação científica, mantida pela Marinha do Brasil, ocupada permanentemente por pesquisadores brasileiros, associados a diversas instituições de várias partes do país.
A primeira expressão que vem à boca de alguns viajantes que avistam os rochedos pela primeira vez, e se esforçam para manifestar em poucas palavras o que sentem diante do minúsculo e do remoto plantado naquela vastidão oceânica, é que os rochedos são um lugar “perdido no meio do nada”. Bem dentro daquele “nada” está instalado o “tudo” deste livro. Esses rochedos (e numa certa medida o oceano que nos conduz até ele) se revelarão neste livro pleno de marcas e significados deixados pela pesquisa científica, pelos marítimos, cartógrafos e estrategistas, por militares, por aventureiros e sonhadores.
Ao desembarcamos nos rochedos para colher imagens destinadas a um documentário, o documentário que acompanha este livro, nos encontrávamos, agora vejo isso claramente, diante de um desafio análogo ao daquele homem de cinema determinado a concluir seu filme em outro meio desafiador, a Floresta Amazônica. Foi nesses termos que Werner Herzog definiu a tarefa que estava enfrentando com uma perseverança fora do comum: ele tentava edificar “pontes sobre o abismo, porém sem nenhuma estaca”. Em vários momentos da realização deste livro, mesmo quando me movementei sobre as bases mais seguras dentro do domínio restrito da História, não pudemos deixar de me inquietar com o desafio que foi tentar compreender esses rochedos.
Herzog chegou ao fim de seu grande filme e este pequeno livro também chega agora ao fim, e, no meu caso, isso só foi possível porque, a bem da verdade, contei com algumas estacas para balizar aquilo que parecia constituir o meu abismo. Duas grandes estacas, decisivas para que pudéssemos afrontar o desafio com bravura. Refiro-me primeiramente ao auxílio institucional do CNPq, por ter aquinhoado meu projeto com uma parcela dos recursos aportados nas pesquisas desenvolvidas no Arquiélago de São Pedro e São Paulo. A outra estaca foi a Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos do Mar (SECIRM), proporcionando a mim e à equipe de filmagens um lugar no Araguari, em 2014, para que víssemos de perto os rochedos.
Auxílios humanos também serviram de “estacas”, ex-alunos e atuais alunos da graduação e do mestrado de História da UFRN, que auxiliaram na pesquisa, de modo eventual ou constante: Nise Lira da Silva, Florizel Medeiros Junior, Gabriela Fernandes, Anny Barbosa, Fagner David, Clara Maria e Gabriel Barreto, e meu ex-aluno, o pesquisador Willian Pinheiro, que tem me trazido seu socorro de pesquisador sagaz sempre que tenho precisão. Antonia leu a Introdução, Thaline leu a Conclusão e o fato de terem apreciado a leitura me estimulou a prosseguir. Dentre os alunos, dois merecem destaque: Alenuska Andrade, que me ajudou a organizar os dados para montar o projeto original De rochedo a arquipélago: São Pedro e São Paulo na pesquisa científica brasileira, e Flávia Emmanuely, bolsista de apoio técnico do CNPq, que me auxiliou na pesquisa e na gestão do projeto. O estímulo e o apoio da professora Patrícia Pinheiro de Melo (UFPE) foi decisivo para a concretização do livro. Giovanni Bentes Filho foi meu assistente permanente na pesquisa. Ele prossegue, agora como mestrando, estudando as experiências históricas dos pescadores brasileiros nos anos 1920, um tema que considero uma espécie de irradiação acadêmica dos rochedos de São Pedro e São Paulo. Com a concessão de uma bolsa de Iniciação Científica, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (universidade onde exerço minhas atividades de professor e pesquisador, desde 1993, e que tem vários pesquisadores vinculados ao de São Pedro e São Paulo) caracterizou sua participação neste livro.
A confiança que a CEPE (Recife) depositou neste texto, transformando-o em livro e incluindo-o no seu catálogo, demonstra a visão editorial larga de seus editores. Alguns dos personagens desta narrativa partilharam comigo a experiência que viveram nos rochedos e me cederam documentos, que utilizei largamente. O tenente aposentado da Marinha de Guerra, Mário Monteiro, o professor Clementino Câmara, os radioamadores Karl Mesquita e Pergentino de Andrade responderam ao meu chamado e conversaram comigo sobre as motivações que um dia os levaram aos rochedos. Conversei com o professor Clementino, no meio do agradável odor das clorofíceas incensando o quintal de sua casa, onde são preparados inúmeros produtos farmacêuticos a partir dessas algas; Karl Mesquita, que em três ocasiões foi aos rochedos com seu companheiro de radioamadorismo, Pergentino Andrade, me conduziu até o compartimento de sua casa, onde, acionando todos os aparelhos de rádio que ele conserva, me deu uma pequena mostra da parafernália das ondas e das vozes vibrando no espaço e que por muitos dias vibraram, como veremos nesta narrativa, sobre os rochedos. Monteiro, que chegou a conhecer a principal embarcação da história contada por este livro, me falou das lembranças amorosas relativas a certas embarcações em que serviu, confirmando a verdade daquele aforisma de marinheiros, segundo o qual os barcos possuem alma.
O professor da UFRN, Thomas Ferreira da Costa Campos, geólogo, doutor em Geociências, foi generoso comigo desde que o contatei, lendo minha conclusão. Sua competência me impediu de naufragar em alguns erros. Também foram importantes para este livro as conversas que, na sala de armas do Araguari, mantive com o professor da UFRN Jorge Lins, doutor em Biologia Marinha, coordenador do Laboratório de Biologia Pesqueira da UFRN e do Laboratório de Mergulho Científico, um homem cuja atividade profissional se liga aos começos da Estação Científica de São Pedro e São Paulo; sentados ambos ao pé do farol, o capitão de corveta Marco Antônio Carvalho de Souza e eu, conversamos a respeito de certas questões institucionais envolvendo os rochedos. Mas este trabalho lhe deve mais: Carvalho proporcionou meu embarque e de toda uma equipe de filmagens no Araguari. Enquanto subíamos, procurando caminho entre os atobás, até o ponto mais alto da ilhota Belmonte, o tenente Silveirinha manteve uma conversa esclarecedora com a equipe de filmagens. Ali, no alto da ilhota e ao pé do farol, Daniele Viana, doutora em Oceanografia, que estudou os peixes das profundidades e agora está dirigindo suas pesquisas para outras latitudes, partilhou com a equipe de filmagens um pouco daqueles seus últimos fins de tarde no local, um pouco daquelas velhas horas melancólicas em que, instalados sobre as rochas de uma ilha, os indivíduos olham o oceano e se veem diante do fato de que, a vida, como devem dizer muitas canções espalhadas pelo mundo, é feita de chegadas e de partidas.
RAIMUNDO ARRAIS é professor do Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História da UFRN. Seus livros e artigos trabalham a questão dos territórios da história urbana, história ambiental, historiografia e estudo dos intelectuais, explorando os cruzamentos entre história e literatura nos séculos XIX e XX.
Publicidade