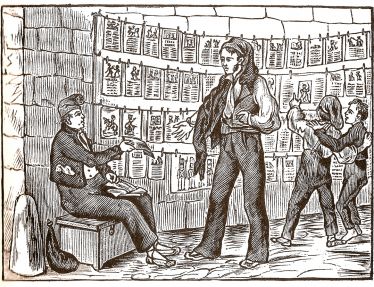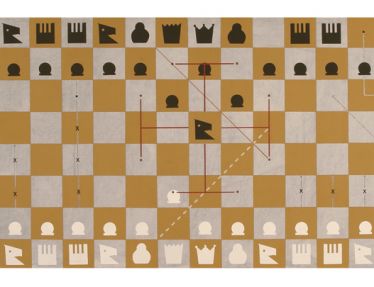
Um homem-patrimônio
Mestre pantaneiro Agripino Soares de Magalhães comemora 100 anos como um dos últimos artesãos de viola de cocho do Mato Grosso do Sul
TEXTO E FOTOS OLÍVIA MINDÊLO
01 de Novembro de 2018

Agripino Soares de Magalhães completou um século em junho
Foto Olívia Mindêlo
[conteúdo exclusivo para assinantes | ed. 215 | novembro de 2018]
“A viola? Tá aí; tá aí escondida! Guardada, presa, marada”, responde seu Agripino com a língua vibrando nos erres (lê-se éres), fala própria dos que habitam as terras alagadas de um Brasil profundo, bonito. “Sou filho de Mato Grosso,/ não nego meu natural./ Moro na Cidade Branca,/ capital do Pantanal”, canta o mestre cururueiro. Os versos pertencem a uma cultura pantaneira na qual Agripino Soares de Magalhães firmou sua existência como artista brincante e luthier de viola de cocho, instrumento artesanal e patrimônio imaterial brasileiro desde 2005, pelo Iphan.
A Cidade Branca, à qual ele se refere em sua canção, é Corumbá, cujo solo de formação calcária emoldura-se pelas águas do Rio Paraguai. Corumbá faz fronteira com a Bolívia e está distante cerca de 400 km de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde um dia tudo foi Mato Grosso. Justamente nela o artista fixou morada, depois de sair de Cuiabá (MT) com a “roupa do couro e uma redinha” em busca de trabalho. Tinha experiência com o roçado da família e parou no caminho para um serviço de extração de madeira. Logo depois, seguiu rumo a Corumbá num barco a vapor, em história que consta no livro Vozes do artesanato, organizado por Fabio Pellegrini, através da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul.
Isso já faz tempo, ele tinha 15 anos e produzia viola de cocho desde os 13. Assim que chegou, seu Agripino realizou vários serviços: construiu barcos de puxar boi na Marinha e seguiu longo período como estivador no Porto de Corumbá, até o século passado um ponto bastante ativo na região, incluindo trocas internacionais. No tempo livre, ele fazia viola, tocava cururu. Hoje, este senhor centenário – em junho, ele completou 100 anos – resiste em seus dias simples e tranquilos de cidadão corumbaense, simbolizando a permanência de uma manifestação cultural cada vez mais rara no território mato-grossense-do-sul.
O instrumento do seu Agripino há 40 anos
“A viola-de-cocho é um instrumento musical singular e especial em relação à forma e à sonoridade. Encontrada em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, costuma acompanhar-se de ganzá (reco-reco, no Nordeste) e tamborim ou mocho. Integra o complexo musical, coreográfico e poético do cururu e do siriri, cultivado por segmentos das camadas populares como diversão ou devoção a santos católicos”, explica a antropóloga Letícia Vianna, no artigo O caso do registro da viola-de-cocho como patrimônio imaterial.
Brincante desde a infância, seu Agripino ensina: “A gente tocava o cururu pra dançar o siriri. Afinava e tocava. Dançava dama, cavalheiro, mulher casada, mulher solteira. Era uma brincadeira linda, não tinha bagunça. Hoje já não faz mais isso, o pessoal é rebento”. O cururu, que também envolve canto e alguns passos, é uma música geralmente executada por uma dupla de homens que celebra as pessoas presentes, mas nem sempre há o siriri. São manifestações diferentes, como ele explica acima e canta aqui:
Siriri é uma dança que se dança o dia inteiro
Dança com mulher casada
E também rapaz solteiro
“Tem outra música que é assim”, emenda o mestre:
Moça morena,
cor dê canela
Entra na cozinha,
que eu te espero na janela
Conhecer seu Agripino é perceber o quanto a viola de cocho expressa a relação que o povo do Pantanal mantém com seu entorno, como é de costume nas manifestações populares de nosso país, passadas de geração a geração. Das madeiras utilizadas na feitura da viola aos temas das músicas, tudo se alinha com a harmonia e riqueza da região. “Eu construí muita viola de cocho, umas 300, fiz bastante pra vender. Esse pilão foi feito por mim”, aponta. “Pegava madeira do outro lado do rio. Essa aí, por exemplo, é cambará. Dura bastante. Tem que saber cortar ela na lua, tem que procurar a lua que o bicho não estraga ela. A lua minguante.”
Sobre a viola que guarda muito bem-guardada, segundo nos respondeu assim que perguntamos sobre sua preciosidade, conta: tem mais de 40 anos com ele. Traz as marcas de um tombo (rachadura) e fitas de promessa a São João. Como é comum ao instrumento, foi confeccionada com dois tipos de madeira: raiz de figueira, na parte de cima da tampa, e araputanga (mogno), “que tem na beira do rio aí”, utilizada para fazer a caixa de ressonância ou o dito cocho, originalmente o nome do recipiente que serve à alimentação dos animais e também é feito a partir da escavação de tora de árvore.
A viola e seus cantadores de cururu são a própria extensão da natureza, tendo o processo de feitura do instrumento sofrido alterações ao longo do tempo. Antigamente, explica seu Agripino, a cola utilizada vinha da poca da piranha e as cordas, da tripa do bugio, um macaco. “A gente pegava, matava, comia a carne, tirava a tripa e fazia a corda. Daí o governo implicou, pois nós tava acabando com o macaco do Mato Grosso. Aí parou, acabou com a matança, hoje é de fio de náilon”, relata em sua fala enfática. A poca da piranha (a pele da tripa do peixe), por sua vez, foi substituída por cola industrial. Mas a ripa de tirar som do ganzá ainda é confeccionada com costela de “boizinho novo”.
Madalena e Agripino são casados há 74 anos e vivem em Corumbá (MS)
Atualmente, o mestre se diz sem paciência para confeccionar instrumentos, a idade pesa. Em casa, só tem uma viola, pois a outra, segundo ele, levaram. Casado com dona Maria Madalena, de 90 anos, vive da aposentadoria curta do serviço na estiva e recebe ajuda da neta Sílvia para organizar as finanças e a vida de artista. “Papai tá bem. Pelo tempo já vivido, tem a questão do andar, mais lento, e já tem aquelas dificuldades normais da idade. Mas ouve bem, conversa muito bem. Já minha mãe escuta o que ela quer, é muito teimosa. Mas eles são saudáveis, comem de tudo e muito bem. Papai come dois ovos de manhã, toma leite, come fruta”, diz a filha Luciene Soares, professora da educação infantil em uma escola municipal da cidade. Ela mora vizinha aos pais, que durante o dia contam com uma cuidadora para ajudá-los.
***
A história que os filhos ouviram da mãe começou na Serra do Amolar, na zona pantaneira entre Cárceres (MT) e Corumbá. “Ela era empregada de um senhor e ele foi para trabalhar nessa região e lá se conheceram. Ela tinha 14 anos, então ele esperou ela fazer 15 anos e casaram. Hoje, isso seria um abuso, ele tinha 25 anos!”, conta Luciene. “A gente é casado desde 1944, faça as contas (são mesmo 74 anos). Dona Maria é a herdeira, dona do meu dinheiro. Eu ganho uma mixaria e agora diz que vou passar para 1 mil cruzeiros e pouco. Mas é 800 e pouco… Eu só que sou aposentado, ela não é. Ela vive daquilo que eu ganho, vive comigo. Graças a Deus, não é uma vida ótima, mas não é ruim. A gente vive aí como Deus manda”, completa seu Agripino.
Juntos, eles tiveram 12 filhos. “Perdemos seis irmãos. Mortes naturais, doenças… O mais velho desapareceu, nunca tivemos notícia dele. Hoje restam seis, e eu sou a única em Corumbá.” Conta também Luciene que ela cresceu no siriri. O pai dizia: “Tem que ir, senão você vai apanhar”. “Eu não gostava muito. Não tinha prazer, não tava a fim, não era coisa de criança. Mas na hora que você estava dançando, você esquecia até os aborrecimentos que tinha adquirido. Até chegar era ruim, mas depois que chegava era bom”, relembra Luciene, mãe de Flávia e Sílvia, que, segundo ela, é apaixonada pelo avô.
A educação do pai surtiu efeito: hoje, a educadora é defensora da cultura popular. Quando foi diretora de uma escolinha municipal, juntou crianças de 4, 5 e 6 anos para fazer um siriri. Na roupa, seguiu o figuro da tradição: saia estampada e blusa de uma cor só. Já os meninos, calça e camisa xadrez com lenço no pescoço. Uma caracterização bem junina, mas para uma manifestação bem diferente do São João nordestino. Segundo ela, atualmente não se veem mais grupos espontâneos de siriri, só em atividades de instituições como o Moinho Cultural, de Corumbá, e algumas iniciativas pontuais nas escolas, por exemplo. “Só se pegarem um grupo e ensaiar.” Quanto à viola, ela diz que reduziu bastante na cidade, embora no Mato Grosso tenha mais. Segundo ela, há dificuldade com a madeira, mas principalmente pessoas mais jovens que deem continuidade ao trabalho do pai. “Nem todo mundo faz viola. Então ele virou referência. Depois, aí seu Sebastião veio produzir, mas bem depois. O pai dele era parceiro do meu pai, seu Inácio.”
Em maio deste ano, durante o Festival América do Sul Pantanal – Fasp, a Continente esteve na cidade e conheceu justamente Mestre Sebastião, luthier e cururueiro de Ladário, cidade vizinha que deu origem a Corumbá, no século XVIII. Ele ministrava uma oficina de produção de miniviolas de cocho para suvenir e nos recebeu com um sorriso largo. Ali nos apresentou aquele universo, contou com alegria que a viola da foto havia sido feita por seu Agripino, que, como ele, trabalhou na estiva e carregou muito peso, muita saca de milho. “Ele mora lá por cima, na Cervejaria. Vai fazer 100 anos!”, nos disse o mestre.
Imediatamente, procuramos as coordenadas e um taxista sabia o endereço. No percurso, contou que no bairro onde mora seu Agripino e a família já funcionou uma fábrica de cerveja, daí o nome Cervejaria. Batemos palma, a cuidadora atendeu e confirmou ser a casa dele. Prendeu o cachorro e subimos as escadas. Logo no corredor, uma plaquinha nos recebeu: “Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho”. Ele encontrava-se lá no terraço de trás e olhava o “horizonte”. Recebeu-nos como se fôssemos uma visita corriqueira. Dona Maria cortava papel.
Entrada da casa de seu Agripino e dona Madalena
Ele logo nos contou que, quando chegou ao local, não tinha nada ao redor, mas tinha a cervejaria. “Aí encostei aqui por perto da cervejaria e fiquei até agora. Essas casas aqui do lado, tudo era meu e fui vendendo. O baraco tinha telha francesa, jogavam pedra e quebrava. Essa cobertura é um pouco quente, mas aguenta pedra.” Também nos disse ter nascido em Poconé (MT) e que fazia muito calor em Corumbá, que chega a sensações térmicas de mais de 40 Cº nas épocas quentes do ano. Falou ainda que ficou sabendo do festival, mas não foi porque não aguenta. “De pé não aguento e ficar sentado não aguento. Pensei que vocês eram do Moinho (Cultural)…”
“E a viola, o senhor aprendeu com quem?”, perguntamos. “A viola? Tá aí; tá aí escondida! Guardada, presa, marada. Aprendi a fazer sozinho, via os outros trabalhar e pegava e fazia.” “Seu pai ensinou algo?” “Meu pai? Não, meu pai não fazia nada, era um homem inútil, gostava muito de beber, bebia e esquecia de fazer as coisas. O nome dele era Antônio Lopes de Magalhães e minha mãe Joana Soares de Magalhães. Eu trouxe eles pra Corumbá, morreram em meu poder”, relata o mestre.
“Agora há pouco acordei, daqui a pouco vem remédio aí. Duas pastilhas: uma de osso, outra pra limpar a garganta, tirar um catarro seco que a gente junta aqui e dá uma tosse. Primeiro tomo café, daí uma hora e pouco, vem uma bolacha com manteiga. Essa aí é a nossa empregada, ganha pra cuidar de nós. Fica que nem uma piranha, dando bote na gente (risos).” Lucélia, a cuidadora, diz que dona Maria dá mais trabalho do que ele. “Já dei trabalho, hoje não dou mais (risos). Tem uma rede aí que eu deito, mas não dormo. Fico pensando em nada. Cuidando da vida, esperando a hora que Deus der. Tudo acaba né?”, diz ele, que também é benzedor.
Marrequinha da lagoa
Tuiuiu do Pantanal
Marrequinha pega peixe
Tuiuiu já vem tomar
Paisagem do Rio Paraguai, em Corumbá (MS)
Em 2009, seu Agripino recebeu o Prêmio Culturas Populares, da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, que lhe concedeu o título de Mestre do Saber entre mais de 3 mil inscritos. Em 2017, veio outro reconhecimento nacional: o MinC o certificou como Mestre da Cultura Popular, na quinta edição do Prêmio Culturas Populares – Leandro Gomes de Barros. A partir daí, ganhou mais notoriedade, elevando a autoestima da cultura pantaneira ao firmar-se como patrimônio vivo de uma arte secular.
Quando perguntado sobre fazer 100 anos, diz: “Ter resistência, né? Tem pessoas que quer viver e ser aviciadas, tomando cachaça, álcool com água, água com limão. A resistência vem da pessoa, do trato dele, do serviço dele”.![]()
------------------------------------------------------
EXTRA | Assista a vídeo sobre o mestre:
OLÍVIA MINDÊLO, jornalista e editora da Continente Online. Viajou a Corumbá em maio, a convite da 14ª edição do Festival América do Sul Pantanal. Durante a entrevista com seu Agripino, contou com a colaboração da conservacionista e contadora de histórias Fernanda Reverdito, de Bonito (MS).
Publicidade